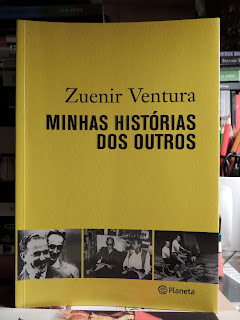Acompanhei a repercussão em torno da demolição da
casa onde o escritor Caio Fernando Abreu (1948-1996) viveu seus últimos anos,
no Bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Há anos havia uma pequena mobilização
para que a casa fosse preservada e se transformasse em casa-museu ou centro
cultural, mas não vingou. A casa nunca foi inventariada como bem cultural ou
patrimônio histórico e, quando o novo proprietário decidiu colocá-la abaixo (como ocorreu semanas atrás),
não houve como detê-lo.
Mas é bom que se ressalve que o acervo cultural do
escritor está preservado e organizado num centro de estudos literários da PUCRS: o Delfos, espaço de documentação e memória cultural. Mais de 500 itens do
autor catalogados, junto com os acervos de outros escritores sul-rio-grandenses
como Pedro Geraldo Escosteguy, Lila Ripoll e Vera Karam. (Quando escrevia minha
dissertação de mestrado, no início dos anos 90, presenciei o início da
catalogação do acervo de Pedro Geraldo Escosteguy.)
Pois acompanhei a mobilização em torno da
preservação da casa dos pais do escritor, afinal, aluno do Julinho (Colégio Júlio de Castilhos), os livros do
Caio estavam entre os que circulavam na minha turma, junto com os de Fernando Sabino,
Gabriel Garcia Marques, Dürrenmartt e Clarice Lispector. Foi um colega de aula
quem me passou o Limite branco, que fora publicado naquela época (RJ, Ed.
Expressão e Cultura, 1971). O personagem central é um rapaz na Porto Alegre do
final dos anos 60, com muitos questionamentos a respeito da vida, que bate pernas pela Ponta do
Gasômetro, no local onde havia as ruínas de um presídio recém posto abaixo. Um local
decadente que fazia parte do roteiro de caminhada de meus colegas e eu.
Poucos anos
depois, em 1975, conheci o Caio no campus da UFRGS (no Parque da Redenção). Ele
tentava retomar o Curso de Letras, tínhamos um amigo comum e conversamos diversas
vezes no Bar do Antônio (no campus) e também nos bares da Esquina Maldita
(esquina da Sarmento Leite com Osvaldo Aranha). Caio e meu amigo Alex Borloz (já
falecido) haviam vivido em comunidade hippie, usado drogas alucinógenas, participado
de festas orgiásticas e isso, para um jovem careta como eu, era fascinante. Um
mundo que eu desconhecia.
O Alex (meu colega no Curso de História) passara
por clínica psiquiátrica para desintoxicação e procurava ter uma “vida normal”
(assim mesmo, com aspas, tentativa de fugir do modelo contracultural que o
encantara). O Caio, por sua vez, mesmo reconhecendo que “o sonho acabou”, mantinha
a cabeça nesse universo cultural e seus contos reproduziam isso de forma magnífica.
Naquele ano de 75 ele lançava O ovo apunhalado (Editora Globo) e o
acompanhamos em alguns eventos – o mais inusitado num show de rock, num cinema
na praia de Atlântida. Caio deu um exemplar do livro para o vocalista da banda
e, do palco, o rapaz fez o “lançamento da obra”, isto é, jogou-o na direção da
plateia.
Motivado por essa comoção em torno da casa onde
Caio viveu seus últimos anos de vida (já debilitado pela Aids) fui reler a
biografia Caio Fernando Abreu, inventário de um escritor irremediável,
de Jeanne Callegari (São Paulo, Ed. Seoman, 2008). Como aponta José Castello no
prefácio, um perfil de Caio Abreu que se lê como um romance. A autora encarna a perspectiva do escritor e apresenta a sua trajetória de forma muito viva, enfatizando suas
inquietações, ousadias, bom humor, depressões e a serenidade com que enfrentou o final de sua vida.

Os novos leitores, no entanto, agregaram outros
sentidos a sua literatura, que não alcanço. Tempos atrás, num evento acadêmico
na UFSM, soube de uns estudantes que foram acender velas no seu
túmulo (no Cemitério João XXIII, em Porto Alegre). Achei muito estranho e uma professora do Curso de
Letras me disse: “Não é o Caio que tu conheces, é outro”. Lembrei
disso acompanhando as repercussões da demolição da casa do escritor.
Obs: em
1975, Caio Abreu estava retomando o Curso de Letras na UFRGS. Mas não aguentou, achou o ambiente terrível e fez meu amigo Alex e eu
reconhecermos que, para concluir um curso universitário, só sendo um pouco careta também. Deve ter concluído, com a sua voz forte e muitas vezes irreverente, que "isso não é para mim".




.jpg)