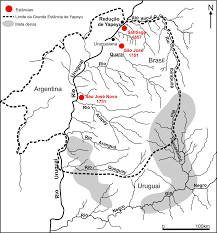As lembranças dos outros às vezes nos fazem rever a
própria trajetória. Isso acontece seguido comigo. Semanas atrás uma amiga (Eliana Sturza) postou uma crônica no seu blog (Lili inventa o mundo), a respeito da sua meninice
(Os bailes na vida de uma adolescente) e o gatilho da minha memória disparou.
Minha amiga escreveu a respeito da sua vida de
menina na década de 1980, em São Vicente do Sul, e eu recordei minha vida de
guri em Pelotas, na década de 1960. Lili (a personagem da minha amiga, projeção
da sua infância) descobriu os bailes de clubes aos 13 anos e, ao mesmo tempo, a
separação entre brancos e negros, cada qual com as suas entidades recreativas e
associações. Brancos não frequentavam os clubes de “morenos” e estes não
entravam nos clubes de brancos. Lili pensou em ir ao Clube União (de negros) e
logo lhe disseram que não, pois era espaço “dos morenos”.
Na minha experiência de guri pelotense não vivi essa
situação. Bailes eram realidades distantes do meu cotidiano. No Carnaval frequentava
os bailes infantis dos clubes Comercial e Diamantinos (ambos, entidades de brancos
de classe média e alta) e isso já era suficiente para mim. Bailes não me
entusiasmavam, mas eu não desgostava dessas festas. Recordo meus pais muito
contentes (vestindo roupas claras), bonitos e vibrantes, dos foliões empolgados,
a banda “vigorosa nos metais” (como dizia meu avô) e, especialmente, a
suntuosidade do Clube Comercial (hoje em ruínas).
 |
| Meus irmãos e eu no carnaval do Clube Comercial. |
Mas gostava de ouvir as histórias de meu pai e
sabia da existência de clubes exclusivamente de negros, em especial de associações
carnavalescas, como a Escola de Samba General Telles (uma das mais famosas
naquele tempo). A Telles encerrava o desfile das escolas de samba na Rua XV de
Novembro e o modo como contagiava o público era um espetáculo à parte. Quando
ela passava pela frente do Café Nacional (local onde costumávamos assistir aos
desfiles, em cadeiras alugadas colocadas na calçada), havia empurra-empurra, o
público se levantava das cadeiras e alguns corriam para dentro do café.
Um espetáculo
que causava risos, prazer, alegria e também apreensão e susto. Meu pai vibrava,
minha mãe dizia que era selvagem, mas também gostava. Uma vez tivemos uma
empregada doméstica que integrava essa escola e, naquele ano, esperamos o
desfile com uma atenção redobrada. Quando a General Telles passou na frente do
Café Nacional (hoje, Café Aquários), tive dificuldade em reconhece-la sambando dentro de um vestido multicolorido,
um penteado alto na cabeça, com um sorriso deslumbrante. Só sei que era ela
porque meus pais disseram:
– É a Valesca, olha, é ela mesma. Como ela está
feliz!
Valesca trabalhava e dormia na nossa casa, tinha
crises de choro, e diversas vezes minha mãe teve que consola-la em algumas
madrugadas.
Lendo a crônica de minha amiga e a sua descoberta
de um clube de “morenos” que não podia frequentar, lembrei que as associações
recreativas negras eram uma realidade distante na minha infância. Eu mal sabia.
Circulava num ambiente de brancos e via de longe as associações negras. Enxergava
apenas os belos espetáculos que elas proporcionavam, como no caso da General Telles,
cujo samba fazia o público pelotense dos anos 60 se assustar e vibrar de
alegria e prazer.